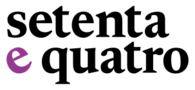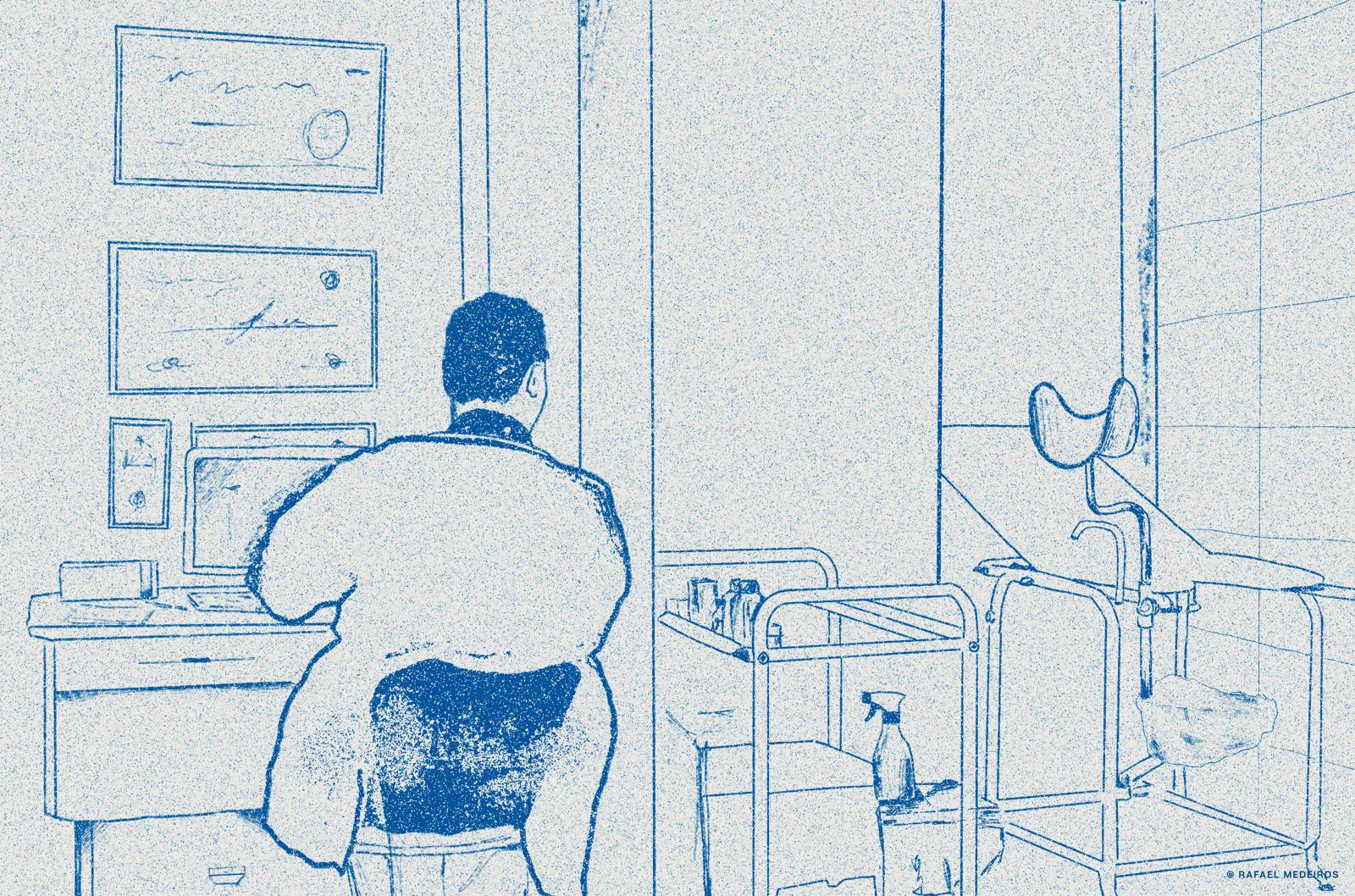Aviso: O relatório que se segue contém descrições sobre violência sexual.
Carlota acusou um enfermeiro de abusos sexuais nas urgências de um hospital. Avançou com queixa-crime e foi vaiada, perseguida, ameaçada e maltratada na cidade em que sempre viveu. O enfermeiro foi condenado, mas só porque outras duas mulheres também o denunciaram. Recebeu pena suspensa de cinco anos e poderá regressar em breve aos corredores de um hospital.

A sua irmã nao sabia dela há três horas. Eram cerca das duas da manhã daquela quarta-feira quando Carlota saiu das urgências do hospital público de uma cidade pequena no Alentejo. Entrou no carro da irmã, Marta, que lhe perguntou o que tinha acontecido. “Acordei no hospital, mas não faço ideia o que aconteceu”, respondeu-lhe a então jovem de 18 anos, confusa.
O caminho até casa era curto. Num dia normal, sem trânsito, não demoravam mais de 15 minutos a chegar. Foi na rotunda mais próxima de sua casa que lhe deu um flash, começou a lembrar-se do que lhe tinha acontecido: um enfermeiro abusou sexualmente dela nas urgências do hospital. “A falta de ar era dilacerante, comecei aos gritos, nem conseguia falar direito.” Até àquele dia, não fazia ideia o que era um ataque de pânico. “Lembro-me que quando começou a tocar no meu corpo, pensei: 'quero morrer neste momento'. E senti uma força em mim que fez com que perdesse a consciência", conta Carlota.
Foi em 2009 que a irmã e o cunhado a deixaram na entrada do hospital. Depois de ser observada na triagem - onde lhe analisaram os sintomas -, deram-lhe a pulseira cor-de-laranja, porque o facto de não sentir as pernas “assustava”. Nas urgências, levaram-na para uma maca e uma médica fez-lhe um eletrocardiograma, e os resultados afastaram qualquer patologia mais grave. Depois chegou um enfermeiro, entrou na sala de urgências em que os pacientes estavam deitados e fechou a cortina. Tirou-lhe sangue e disse que lhe ia injetar uma medicação para as dores. Carlota respondeu “tudo bem”, mas pensou que não se tratava de sentir dor, porque não tinha, ao invés o seu problema era falta de sensibilidade. Carlota foi drogada, tal como foi provado em tribunal.

As a nonprofit journalism organization, we depend on your support to fund more than 170 reporting projects every year on critical global and local issues. Donate any amount today to become a Pulitzer Center Champion and receive exclusive benefits!
Carlota avançou com queixa-crime um dia depois. A queixa seguiu para tribunal e resultou numa condenação de cinco anos de pena suspensa e 12 mil euros de indemnização, mas acredita que apenas ganhou o caso por o abusador ser alvo de um outro processo judicial por outra mulher, e pelas mesmas razões. Além disso, uma outra testemunha, que disse ter sido sujeita a abusos sexuais semelhantes meses antes, contou a sua história em julgamento.
Estas três mulheres não se conheciam nem se correspondiam de forma alguma, ainda que vivessem na mesma cidade. Mas tinham três coisas em comum: deram entrada nas urgências do hospital, foram atendidas pelo mesmo enfermeiro e não se lembram do que lhes aconteceu.
Estas são três das 47 mulheres sobreviventes que sofreram abusos sexuais entre 2000 e 2023 que o Setenta e Quatro entrevistou. Destas 47, apenas 14 nos autorizaram a usar os seus depoimentos nesta investigação. As restantes 33 ficaram-se pelas entrevistas exploratórias: o medo e a vulnerabilidade emocional a que se submetiam ao recordar o trauma era enorme. Não queriam passar por isso. Não se queriam expor, e muito menos denunciar os seus agressores com medo de serem descredibilizadas. Os nomes das três mulheres cuja história aqui contamos são fictícios: apesar de quererem contar as suas histórias, para que se conheça e fale das consequências da violência sexual contra as mulheres, não querem receber mais exposição do que a que já tiveram ao longo de todo o processo judicial.
O enfermeiro administrava-lhes benzodiazepinas (sedativos). Qual é o efeito? “Ficamos bloqueadas”. Carlota explica que há visão e audição, mas perde-se toda a força física. Ele avisou-a, “dizendo que ia começar a sentir-me leve e que estava tudo bem”. Era para relaxar. O enfermeiro saiu durante uns instantes e depois voltou. “Ele usou as minhas mãos para se masturbar e, ao mesmo tempo, dizia-me coisas, provavelmente, para se excitar mais.” Dizia-lhe ao ouvido repetidas expressões como: “Gostas de sexo anal? Gostas de broches?”.
Este é o início de um longo processo emocional e judicial. Durou sete anos, mas só há poucos meses é que Carlota deixou de se curvar e de ficar ansiosa quando passa pelo agora ex-enfermeiro nas ruas da pequena cidade onde vivem. “Eu usava tops e calções e tinha sempre a tendência de me tapar, de me encolher toda, mas há cerca de uns meses passei por ele, levantei-me e já não o fiz”. Sente que se “curou” do medo.
Carlota, Ana e Joana—as outras duas protagonistas desta história—foram sujeitas a abusos sexuais, em 2009, pelo mesmo enfermeiro. A Convenção de Istambul, sobre violência sexual e doméstica contra as mulheres, ainda não tinha sido assinada (foi-o em 2011), não havia Estatuto Legal da Vítima (foi aprovado em 2015) e não existiam números da Entidade Reguladora da Saúde—as reclamações eram feitas diretamente nos hospitais e só em 2014 é que a entidade reguladora passou a compilar dados.
Apesar de haver poucos dados públicos consistentes sobre abusos sexuais cometidos por médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, o caso destas três mulheres resultou numa condenação. Mas foram vaiadas, perseguidas e maltratadas na cidade em que sempre viveram. A opinião popular não acreditava nas suas histórias. “Era improvável um enfermeiro cometer atos destes e era praticamente impossível acontecer nas urgências do hospital”, diz Carlota.
“Uma urgência é, por definição, um local muito movimentado, com pessoas sempre à procura de algo ou de alguém, a abrir portas, a afastar cortinas corridas”, explica Mário Macedo, enfermeiro e coordenador da Unidade Epidemiológica e Saúde Pública Hospitalar no hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, antigo Hospital Amadora-Sintra. Mas esse movimento não significa que abusos sexuais “não possam acontecer, mas não é um ambiente tão propício. Eu imaginaria este tipo de situações a acontecer mais em internamentos, por exemplo.”
Apesar de os hospitais, neste caso as urgências, serem lugares menos propícios, são também aqueles em que há mais facilidade na quebra de segurança, porque “fazemos noites e as noites de facto são muito particulares”, diz Luís Mós, representante sindical do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. “Há menos pessoal. Nós conseguimos trabalhar, maioritariamente, de forma individual.”
O início de uma queixa que levou à condenação
Carlota foi aconselhada a desistir da queixa pelo seu primeiro advogado, oficioso. Lembra-se de procurar um apoio que nunca foi retribuído: “ele disse-me ‘isto é muito complicado, nem vale a pena'”. Como se não bastasse, conta Carlota, o advogado disse-lhe ainda: “Não me vou meter nisso, não vale a pena. Vai ter de ir para um advogado a pagar”.
Era a palavra de uma mulher, jovem e que sofreu abusos sexuais, contra a de um abusador, enfermeiro, homem e sem testemunhas. Foram fatores que levaram o advogado a afastar-se do caso, mas a sua nova advogada viu a situação de outra forma: era uma motivação ainda maior para levar o caso em frente. “Disse à Carlota que ia demonstrar que as coisas não eram assim. Mesmo sem testemunhas, poderíamos provar o que lhe tinha acontecido”, diz a advogada, hoje reformada e que acompanhou Carlota até ao fim do processo judicial. “Muitas vezes, os tribunais, absolvem os abusadores por falta de provas. Ali só não foi absolvido porque a vítima deu luta e apresentou ainda outros casos. Não era algo isolado.”
Regressar ao local onde se sofre um abuso sexual é “tortuoso”, dizem-no as três mulheres sobreviventes deste caso. Catarina Barba, psicóloga especializada em Violência Sexual e Stress-Pós Traumático, não deixa de o reforçar: “Como é que eu vou pedir ajuda a um hospital se isto acontece no hospital?”. Carlota fê-lo.

A irmã Marta e o cunhado regressaram de imediato ao hospital para que ela apresentasse queixa. “Cheguei lá e disse a uma enfermeira que queria fazer queixa”. Era a enfermeira-chefe da unidade. “Ela respondeu-me, com uma enorme arrogância, rasgou um papel qualquer, que tinha coisas escritas por detrás, para anotar”, desvalorizando, conta. “Aquela insensibilidade matou-me”, diz. “Fiquei com tanta raiva, porque apesar dela [enfermeira] realmente ter dado aquilo a quem era de direito, tratou-me como se eu estivesse a inventar tudo.”
A dúvida em relação àquele enfermeiro era praticamente nula. Na sua maioria, a equipa clínica que trabalhava consigo sempre se recusou a acreditar que praticava abusos sexuais. Essa confiança está, inclusive, espelhada no processo judicial, referindo que a primeira reclamação contra o enfermeiro, apresentada cinco meses antes da de Carlota, foi "deslegitimada, porque o conselho clínico não recolheu qualquer indício de abuso por parte do enfermeiro. A sua conduta é, desde o início da sua profissão, respeitadora e sem falhas”.
Depois de fazer queixa no hospital, Carlota regressou a casa. “Foi nesse momento que tudo se intensificou.” Ao final do dia, ainda meio atordoada pela dose que o enfermeiro lhe deu, Carlota foi incapaz de tomar banho sozinha. “Lembro-me da Marta de barrigão (estava grávida) me lavar”, recorda. A imagem que descreve é da sua irmã estar a limpar consecutivamente as suas lágrimas, pois Carlota não tinha sequer forças para o fazer.
A mãe reuniu a família inteira para decidir sobre o próximo passo. A jovem reconhece que foi uma grande onda de amor, mas, ao mesmo tempo, “uma vergonha enorme”. Sempre foi assim: o apoio familiar foi fulcral em todos os momentos da sua vida, principalmente depois de o seu pai ter morrido, tinha ela sete anos.
“Nesse dia, tinha o braço de fora [da cama]. De repente acordo, olho para cima e vejo o enfermeiro, de bata branca. Agarrou-me na mão, colocou-a em cima do sexo dele e disse-me: ‘agora feche os olhos porque vai dormir’.
A sua família decidiu que Carlota teria de ir à polícia. O primeiro passo, de pedir explicações ao hospital, estava dado. Seguia-se a queixa à PSP. Já era final do dia quando foi a uma esquadra com o tio. O agente, diz Carlota, ficou em choque, não conseguiu ficar indiferente à sua dor - tanto que foi sua testemunha em tribunal. O agente levou-a ao mesmo hospital para lhe fazerem análises ao sangue. “Ele [o polícia] ficou ao meu lado o tempo todo, nunca me deixou sozinha.”
Quando chegaram, o agente pediu que fosse feita perícia de análise sanguínea para ver de que tipo de droga se tratava, porque iria servir de prova em tribunal. A médica que ia fazer a recolha mostrou-se reticente, chegando a alegar que a então jovem de 18 anos podia ter chegado ao hospital drogada. “O polícia passou-se. Disse que era uma pouca vergonha. Fizeram-me análises à urina e ao sangue. Entrei na casa-de-banho sozinha e o agente esteve sempre à porta”, conta Carlota. Sentiu-se segura, mas mesmo assim o agente pediu que fosse feita uma segunda recolha, para garantir que os resultados não fossem deturpados.
Carlota passou três anos em audiências de julgamento, mas o processo só terminou quatro anos depois. “Foram os piores anos da minha vida.” Nunca andava sozinha e estava sempre a olhar para todo o lado, por cima do ombro. “Foi um misto de vergonha, de humilhação, de revolta, de injustiça. Tudo ao mesmo tempo”. O enfermeiro processou-a por difamação, mas o processo foi rapidamente arquivado: “a história que ele contou foi que eu era ex-namorada dele e que estava a tentar vingar-me”. A história não batia certo: ela nunca o tinha visto antes daquela noite.
Havia momentos em que Carlota estava completamente segura em continuar com a queixa-crime e outros em que mergulhava na dúvida, se deveria ou não continuar. “Essa fase decorreu antes do julgamento. Como esta é uma cidade pequena, ela era muito pressionada, quer pelas pessoas da terra, quer pelos amigos dele”, conta a advogada de Carlota.
Carlota começou a ser colocada à margem pelas amigas, a dúvida sobre se estaria a mentir ganhou, aos poucos, forma. A jovem isolou-se cada vez mais. O mesmo aconteceu com Ana. Insultavam-nas, chamavam-lhes de mentirosas à entrada e à saída do tribunal. Cuspiam-lhes. Passavam pela casa de Carlota e ofendiam-na, gritando. A família do abusador chegou a ameaçá-la. Era acusada de “estar a estragar a vida” ao “rapaz”. A sala de audiências estava sempre cheia. A equipa do hospital e os amigos do enfermeiro esperavam dentro e fora do tribunal. Entre a apresentação da queixa e o recurso ao Tribunal de Relação de Évora, passaram-se sete anos de perseguição.
“Olho para mim com 18 anos e penso: tinha uma força do caraças, sem saber de onde é que ela vinha. Já percebi que isto também tem que ver com a minha mãe, que é uma pessoa muito forte”, reconhece, orgulhosa. "Sinto que se não fosse a minha família e toda a minha estrutura emocional de fé… sinceramente, pensei muitas vezes em suicidar-me.”
A realidade que estas três mulheres viveram tornou-se ameaçadora e os espaços que concentram todas estas experiências podem ter impacto para o resto das suas vidas. Do social ao arquitetónico dos tribunais e das salas de interrogatório, do ambiente à forma como se fala com uma pessoa sujeita a estes abusos, passando pelos perguntas que as entidades competentes insistem em fazer. Tudo isto pode provocar episódios de revitimização das vítimas.
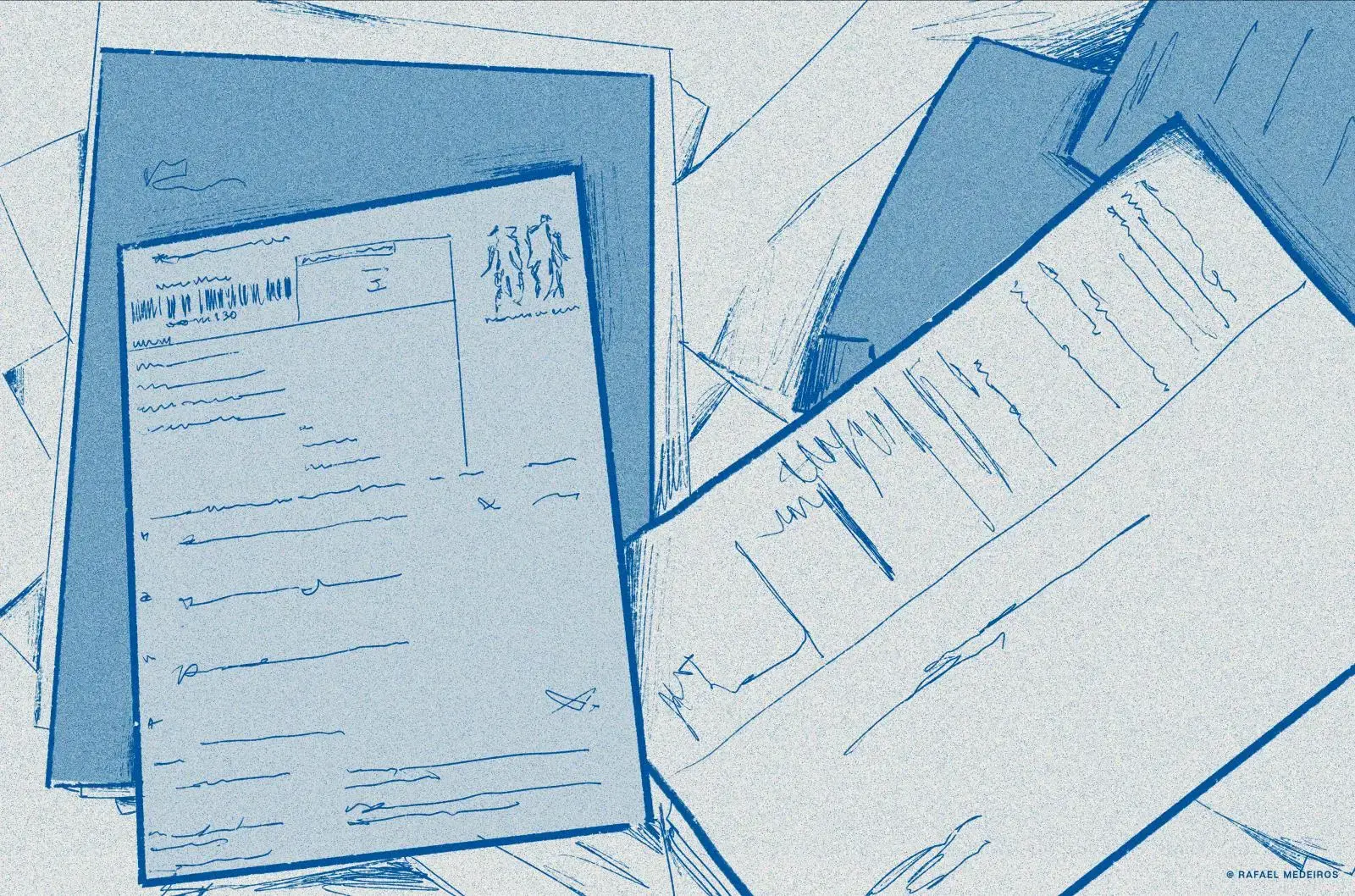
A Justiça está preparada para lidar com sobreviventes de abusos sexuais? “Estarmos bem informados não é termos formação nesta área única e exclusivamente, ou seja, temos de estar conscientes dos nossos preconceitos. Infelizmente, estas pessoas [juristas], tal como eu, têm a enorme vantagem de não decidir nada. Não sou eu que vou dizer se foi verdade ou mentira, se aconteceu ou não, mas um inspector da Polícia Judiciária, por exemplo, também não tem esse papel”, alerta a psicóloga Catarina Barba.
A psicóloga acredita que este é um caminho importante na decisão de um juiz. “Não é ele que vai dizer se aconteceu ou não, mas está ali para apurar o máximo de informações precisas. O mesmo acontece com um procurador do Ministério Público, supostamente com o papel de defender a vítima. Nós temos de estar ali, disponíveis para ouvir, para acolher e fazer as perguntas com o máximo de cuidado possível”, continua a psicóloga.
Este passo-a-passo tem vindo a ser implementado desde a aprovação do Estatuto da Vítima, acrescentado ao Código de Processo Penal em setembro de 2015. Este estatuto é muito claro e específico sobre o interrogatório e o acompanhamento das vítimas: a inquirição deve ser feita por uma pessoa do mesmo sexo, salvo se for por um magistrado do Ministério Público ou juiz.
Devem ainda ser tomadas medidas para que o contacto visual entre as vítimas e os arguidos seja evitado na sala de audiências. Uma vítima especialmente vulnerável pode até prestar as suas declarações por gravação e usadas para “memória futura”. Mas esta medida foi implementada apenas a partir de 2015. Carlota e Ana não tiveram a oportunidade de recorrer ao Estatuto da Vítima. O máximo que conseguiram foi pedir que o julgamento fosse à porta-fechada.
“Os juízes entendiam, sistematicamente, que era indispensável à descoberta da verdade as vítimas repetirem o seu depoimento em julgamento. Isso, felizmente, está a inverter-se”, diz Helena Leitão, Procuradora da República que terminou no final de maio o seu segundo mandato como membro do Grupo de Peritos sobre o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (GRÉVIO) do Conselho da Europa. “Tendencialmente, as coisas vão evoluir no sentido positivo”, mas demora tempo. “Nem as leis nem mentalidades evoluem rapidamente. É a tal segurança do Direito, e a segurança das pessoas”, acrescenta.
“Lembro-me que quando começou a tocar no meu corpo, pensei: ’quero morrer neste momento’. E senti uma força em mim que fez com que perdesse a consciência", afirma Carlota.
O Setenta e Quatro pediu à Direção-Geral de Política da Justiça o número de queixas de casos de criminalidade sexual e quais resultaram em condenação. Em resposta, a entidade pública disse que, sobre o contexto médico-hospitalar, não reuniam quaisquer dados. Contactámos ainda a Polícia Judiciária para compreender que medidas são tomadas durante a recolha de depoimentos das vítimas, mas não obtivemos quaisquer respostas até à data de publicação deste artigo.
Os crimes de violência sexual aumentaram desde 2015. O Relatório Anual de Segurança Interna de 2022 revela um aumento 30,7% (519 casos) nos crimes de violação comparativamente ao ano de 2021. Mas, se juntarmos os dados do Relatório Estatístico Anual da APAV, de 2021, torna-se evidente que a denúncia a gabinetes de apoio à vítima de crimes sexuais aumentaram em 113% (75445 pessoas denunciaram) em comparação com o ano de 2016, em que o atendimento registou 35411 vítimas. A organização registou 1727 crimes de violência sexual só em 2021, dos quais 43 de coação sexual e 249 crimes sexuais contra adultos. A importunação sexual também se incluiu neste conjunto de crimes sexuais, registando-se 89 queixas.
Mas esta é uma realidade que não se observa apenas em Portugal. As Estatísticas Europeias sobre Criminalidade publicadas pelo Eurostat revelam que os crimes de violência sexual registados pelas autoridades aumentaram 173% entre 2008 e 2018.
Para Helena Leitão, são dados representativos de uma realidade influenciados por uma ideia de “superioridade da cultura europeia”. “A violência contra as mulheres assume-se como fenómeno estrutural e global que não conhece limites económicos, sociais, culturais ou fronteiras de espécie alguma”, explica. A procuradora da República alerta ainda para a necessidade “imperiosa” dos Estados-membros da União Europeia adotarem diferentes políticas no combate contra a violência de género: “é preciso evoluir nesta luta e demonstrar que há ‘tolerância zero’ contra qualquer forma de violência”.
O enfermeiro do turno da noite
Se para Carlota o processo de queixa e de reconhecimento dos abusos sexuais foi imediato, porque “tive uma família e uma mãe de garra, que me apoiaram sempre”, para Ana todo o caminho até à denúncia foi muito diferente.
Ana deu entrada nas urgências do mesmo hospital com uma cólica renal. Sozinha, viu-se forçada a conduzir para lá chegar. Chegou ao hospital, deu logo entrada, fez um raio-X e não lhe quiseram dar alta sem antes fazer uma ecografia, o que só aconteceria no dia seguinte, pela manhã, porque já era tarde. “Foi então que nos deitaram nas macas”, recorda. Continuou a soro, na mesma sala em que outros pacientes também o recebiam.
O enfermeiro veio e correu a cortina à volta da maca. “Nesse dia, tinha o braço de fora [da cama]. De repente acordo, olho para cima e vejo o enfermeiro, de bata branca. Agarrou-me na mão, colocou-a em cima do sexo dele e disse-me: ‘agora feche os olhos porque vai dormir’. Confesso que os fechei imediatamente, como quem diz ‘mas o que é que se está aqui a passar?’. E apaguei.”

De volta ao trabalho, Ana chegou a comentar com as amigas, em tom de brincadeira, que se fossem às urgências do hospital havia lá um enfermeiro que não se importava que lhe pusessem a mão no sexo. Disseram-lhe que aquilo não era de todo normal. Uma outra amiga, esposa do enfermeiro-chefe do hospital, insistiu para que percebesse o que tinha acontecido. “Outra coisa que as minhas amigas repararam é que eu passava a vida a lavar as mãos”, lembra Ana. “Foi aí que comecei a cair em mim.” Foi também nessa altura que uma das amigas lhe disse que a tinha ido visitar ao hospital, mas ela não se lembrava de nada. Recusava até a presença da amiga.
Ana é divorciada, tem três filhos e sempre tentou esconder da família o que lhe aconteceu. Ao contrário de Carlota, só os filhos e o ex-marido sabiam o que se tinha passado. Se para Ana e Carlota tudo ficou claro algumas horas depois, para Joana o pedido de ajuda foi quase imediato.
Joana tinha vários problemas de coração. Enquanto terminava o seu dia de trabalho doméstico na casa de uma das suas clientes, a dona da casa aconselhou-a a ir ao hospital. Estava extremamente pálida, com palpitações e com dores de cabeça muito fortes. Era verão e os dias de calor naquela pequena cidade são muito intensos, pensava que seria por isso. “Nunca tinha entrado naquele hospital. Foi a primeira vez e a última.”
Deu entrada nas urgências por volta das 19h30 e saiu de lá na manhã seguinte. “Fui para uma sala com várias macas, separadas por uma cortina, depois de fazer um eletroencefalograma e um TAC, para despistar algum indício de problemas neurológicos”, explica. Até que apareceu o enfermeiro. “Lembro-me perfeitamente das letras grandes, azuis, que trazia cozidas na bata.” Disse que lhe ia dar um medicamento para relaxar, “que era para ajudar-me a acalmar”. Joana não percebia muito bem o que ele dizia, mas acreditou que seria bom para si. “Comecei a sentir-me extremamente dormente, achei aquilo demasiado estranho e lembro-me de marcar o número do meu marido no telemóvel: pedi-lhe que dissesse a alguém para lá ir, porque algo de estranho estava a acontecer”.
Uma amiga encontrou Joana 30 minutos depois. “Ela disse que eu estava com as calças desapertadas e semi-descidas, completamente sem reação. Ele tinha saído há pouco tempo dali”, conta ao Setenta e Quatro. Ainda hoje não sabe o que aconteceu em concreto.
A amiga de Joana ajudou-a a apresentar reclamação no hospital, mas de pouco serviu. “Fui chamada, falei com a direção e com o advogado do hospital, expliquei o que tinha acontecido e que nada daquilo era inventado”, mas a única coisa que fizeram foi tentar “abafar o caso”. “Não sou portuguesa, não tinha propriamente possibilidades para me fazer ouvir e a língua era uma grande barreira para mim, mas sei perfeitamente que aquilo não foi imaginação minha”, diz, assertiva.
Carlota passou três anos em audiências de julgamento, mas o processo só terminou quatro anos depois. “Foram os piores anos da minha vida.” Nunca andava sozinha e estava sempre a olhar para todo o lado, por cima do ombro. “Foi um misto de vergonha, de humilhação, de revolta, de injustiça. Tudo ao mesmo tempo”.
Foi a advogada de Carlota quem encontrou Joana. Formou-se em Criminologia e Psiquiatria Forense no seu país de origem e lá trabalhou com as autoridades durante vários anos, até imigrar para Portugal. Hoje, já não vive no país nem trabalha como empregada doméstica. “Apesar de as leis serem diferentes, sei muito bem como a Justiça reage a vítimas de violência sexual.” Alerta ainda para os graves problemas de saúde mental deste enfermeiro: “tem vários índices de psicopatia elevados e um elemento padrão: naquela altura, todas nós éramos louras”. “A postura dele no tribunal era de uma descontração, quase crença total, de que não ia ser responsabilizado por nada, era surreal”, remata.
As três mulheres guardam as memórias “mais arrepiantes e dolorosas” do tribunal. Viam o agressor de frente: ria-se enquanto elas testemunhavam. “Era como se ele estivesse numa esplanada.” Carlota conta que as pessoas olhavam para si e sentia que estava sempre nua, “porque a vergonha era efetivamente muita”. O depoimento em tribunal foi sempre muito exaustivo. ”Estive praticamente o tempo todo a chorar e eles fizeram imensas pausas para eu beber água”.
Fizeram-lhe muitas perguntas. “Perguntas essas que não cabem na cabeça de ninguém. Como, por exemplo, quantos metros de distância tinha a minha maca da do lado. Eu não fazia ideia se tinha pessoas ao lado.” Acredita que tivessem de ser minuciosos, mas não consegue compreender até que ponto eram necessárias algumas das perguntas que lhe foram feitas.
É neste sentido que a psicóloga Catarina Barba não deixa de dar luz ao grande problema que existe em todo o percurso que se faz da queixa até à condenação: “observamos que as coisas correm mal, não é no fim, não é na decisão, é muito antes. E isso é assustador. Não é só dizermos que temos más decisões, que o caminho todo não soa bem e que as pessoas ficam mais traumatizadas pelo sistema de Justiça, do que com aquilo que lhes aconteceu”. É preciso perceber que a preparação, a recolha e todo o percurso até à decisão final sofre diversas falhas, argumenta a especialista em Violência Sexual e Stress Pós-Traumático.
Este processo resultou em condenação com quatro anos de pena suspensa e com o pagamento de uma indemnização. O arguido recorreu da decisão, mas o Tribunal da Relação de Évora aumentou a pena suspensa para cinco anos e o valor da indemnização duplicou para os 12 mil euros.
E que pena é esta?
Das 47 mulheres sobreviventes de abusos sexuais ouvidas pelo Setenta e Quatro, apenas três avançaram com queixa-crime, acabando por chegar a tribunal. Destes três processos, todos os abusadores condenados obtiveram pena suspensa.
“É muito raro a primeira condenação ser de prisão efetiva”, contextualiza Helena Leitão. “Entre pena de prisão efetiva ou pena suspensa, há uma lei no Código Penal que diz para se dar preferência à segunda sempre que esta for ‘adequada e suficiente para as finalidades da punição’. Ou seja, sempre que se entender que é suficiente em termos de recuperação social do arguido e de recuperação da vítima”, explica a procuradora da República. Helena Leitão acrescenta ainda que, “em termos sistemáticos, o instituto jurídico da lei penal está assim construído. Daí também a dificuldade em aplicar penas efetivas em primeiras condenações. É raríssimo aplicar-se penas de prisão efectiva”.
A neutralidade nas leis deixou de ser aceitável. No Relatório Sombra feito ao comité GREVIO em 2019 pelas ONGs Associação de Mulheres Contra a Violência, Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e European Women’s Lobby, lê-se que “deve ser feita uma revisão que coloque o quadro legal nacional de acordo com este referencial recentemente adoptado pelas Nações Unidas. Além disso, as leis devem integrar os compromissos ratificados por Portugal, designadamente no domínio da igualdade e da não discriminação”.
Esta mesma neutralidade é posta em causa pela socióloga Isabel Ventura no livro Medusa no Palácio da Justiça ou uma História da Violação Sexual, publicado em 2018, corroborando a presença da cultura patriarcal na própria lei. Em entrevista ao Setenta e Quatro, a socióloga explica que “a dificuldade (ou mesmo incapacidade) em pensar as mulheres como autoras, decisoras e detentoras de uma sexualidade ativa e não dependente (e ao serviço) de ações masculinas está continuamente presente nos discursos dos penalistas portugueses, antes e após a reforma penal de 2007”, quando a lei sofreu alterações sobre crimes de abusos sexuais.
Além disso, “o preceito é o de que a intensidade do crime é proporcional à reação da vítima. Só é dispensada desta imposição no caso de estar impedida de o fazer, ou seja, em caso de inconsciência ou semi-inconsciência”, lê-se no seu o livro. A socióloga acrescenta que a incapacidade de resistir por falta de consciência, provocada pelo agressor, seja enquadrável na norma da violação. De outra forma, o crime será o de abuso sexual de pessoa incapaz de resistir, definido pelo artigo 165.º do Código Penal.
“Sinto que se não fosse a minha família e toda a minha estrutura emocional de fé… sinceramente, pensei muitas vezes em suicidar-me.”
A GRÉVIO, comité de 15 especialistas europeus a que Helena Leitão pertenceu até ao final de maio, foi muito clara nas recomendações que fez ao Estado português. “Foi recomendado ao Estado, ao nível de importância máxima, que alterasse a sua legislação no sentido de converter o crime de violação, entre outros, em crime público”, termina.
Todos os especialistas entrevistados pelo Setenta e Quatro defendem que deveria ser crime público e não semi-público. Há pessoas que demoram anos a lidar com o trauma. É por isso que, desde juristas, psicólogos a organizações não-governamentais ligadas ao apoio à vítima, o argumento não deixa de ser comum: o tempo máximo de seis meses para apresentar queixa após o abuso é muito curto.
“A investigação e o julgamento pelo crime de violação, entre outros, não depende inteiramente de queixa-crime, sobretudo quando diz que o processo pode prosseguir mesmo que a vítima retire a sua declaração ou queixa. Isto não deixa dúvidas sobre a natureza pública que o crime de violação deve ter”, afirma Helena Leitão.
Além disso, a procuradora da República esclarece que, se “o crime for público, nem sequer é necessário discutir-se o prazo para a apresentação de queixa. Significa que, enquanto o crime não prescrever — e um crime desta natureza pode demorar até 15 anos — a investigação pode avançar independentemente da vontade da vítima e da família”.
O que resultou desta condenação?
Para Carlota, a Justiça agiu com “benevolência”. “Achei pouquíssimo. Para mim nunca foi dinheiro. Foi mesmo justiça para mim, para elas e para quem passou pelas mãos dele e de outros. Ali eu não estava só a falar dele, mas de um todo. Também fiz queixa contra o hospital e tudo o que encobriu.”
A jovem de 32 anos sofre ainda hoje de vaginismo. É uma dor emocional que ficou ali presa e que não é real. “Eu tenho dor, já fui ao médico”, diz Carlota. “Antes não a tinha. Por isso, sei que fiquei com uma grande dor emocional e o corpo somatiza.”
O psicoterapeuta Rui Ferreira Nunes explica que “há causas de problemas sexuais nos sobreviventes adultos relacionadas com a dissociação mente-corpo ocorrida durante o abuso sexual, defesa que surge como forma de prevenir a dor durante o ato sexual, mas que acaba por impedir também o prazer”. Outro mecanismo que identifica é “deixar de ter sensibilidade em diferentes partes do corpo, como se estivessem anestesiadas, nomeadamente em posições ou práticas sexuais associadas ao abuso”.
Depois do abuso, Ana deixou de sair de casa. “Tive um namorado quando comecei a fazer psicoterapia, mais ou menos da minha idade. Já não está na minha vida, de todo. Tive imensa dificuldade em contar-lhe, mas precisava de contar.” A certa altura “pensei que não fazia sentido continuar aqui, neste mundo”, reconhece, cabisbaixa.
Ao sair da pequena cidade da região do Alentejo cruzámo-nos com uma cervejaria central, a que o filho de Ana se recusa a entrar há anos. É propriedade do ex-enfermeiro. É lá que tem feito o seu negócio desde que foi expulso da Ordem dos Enfermeiros. Mas, concluída a pena suspensa e prescrita a sanção da sua expulsão da Ordem dos Enfermeiros, o agressor sexual condenado pode voltar aos corredores de um hospital. A reabilitação profissional está incluída nos Estatutos da Ordem, apesar de até então a Ordem não ter recebido qualquer pedido da mesma.
Com Cláudia Marques Santos, uma investigação em colaboração com o jornal Público, apoiada pela bolsa de jornalismo Gender and Equality do Pulitzer Center.